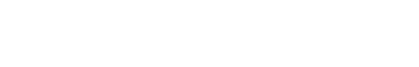É que naquela noite em que a cidade sumira, os arbustos, as ruas, tudo parecia trançado em luzes de natal. Só que era julho. E aquela chuva não parava nunca mais. As gotas todas assim, na noite que agora silenciara, de águas paradas em alguma nuvem esperando apenas a ordem de sabe-se lá quem, mas aquelas águas paradas ali, no galho, pareciam luzes líquidas, piscando a cada balançar de vento. E aquelas águas em suspenso, e em suspense, silenciavam a cidade inteira, apagavam contornos, como se, agora, ela morasse dentro de uma nuvem cheia de semi-ruas, galhos enfeitados por luzes de natal fora de época, silêncio de mundo recém criado ou mergulhado em líquidos pesados. E ela ficou ali, deitada por cima da bochecha esquerda, escorada no parapeito da janela, respirando nuvem e águas no pause, sentiu a narina destrancada, úmida, girou um pouco mais a cabeça e viu os móbiles que enfeitavam o teto da salinha: era bom se do céu tivessem coisas penduradas assim, feito pedra colorida, galinhas e corujas, a gente podia puxar, tocar estrelas e, se quisesse, afofar a lua. Mas não. Do céu só água esperando para cair. Nem meteoro nem estrela cadente. Só água e mais água. Ela achou mesmo que estava presa dentro daquele conto daquele escritor norte-americano sobre aquela chuva naquele planeta distante. Mas era aqui, nesse planeta mesmo. E o pior não era isso. Ela não contara para ninguém, mas a chuva chovia também quando ela dormia. Não no telhado. Não na cidade. Chovia nos seus sonhos, molhava toda noite tudo que sonhava. Teve certeza: estava habitando a nuvem mais gorda de todo céu, mais cheia de água e água e água. E ela toda, era correnteza, tempestade, e alguns choros minguados, minguantes, ela líquida, pingava.